Discriminação racial indireta: uma das facetas mais perigosas do racismo para as organizações
- Bia Vianna
- 2 de dez. de 2025
- 9 min de leitura
Por: ECOS; Clara Serva; Heitor Marques Santos
Baixos percentuais em cargos de liderança e a realidade concreta experienciada por pessoas negras e de outros grupos minorizados dentro das organizações revelam que a ampliação do discurso de inclusão não eliminou as desigualdades estruturais no trabalho. Esses números e vivências não são exceções — são parte do cotidiano de quem tenta existir profissionalmente em estruturas que ainda não foram desenhadas para recebê-los.
A discriminação racial no trabalho não se limita às formas explícitas. Manifesta-se também por mecanismos sutis, naturalizados, sustentados por lógicas de poder e por regimes de reconhecimento racial. Neste artigo, analisamos com um olhar interdisciplinar como a estética, o comportamento e o reconhecimento atuam como forças que sustentam a chamada discriminação racial indireta.
O que é discriminação racial indireta?
Para o antropólogo Kabengele Munanga, a construção social da ideia de raça atribui características morais, intelectuais e estéticas para os grupos racializados, estabelecendo as diferenças como hierarquias. No mercado de trabalho, esse processo de racialização se manifesta de formas múltiplas — por vezes explicitamente, mas também de modo velado ou indireto — sustentando desigualdades que se apresentam como naturais ou neutras.
A discriminação indireta ocorre quando normas, políticas ou práticas aparentemente neutras produzem desvantagens sobre pessoas negras, indígenas ou outros grupos racializados.
Ela se manifesta de forma difusa, incorporada às rotinas institucionais e às expectativas não ditas sobre pessoas preteridas ou privilegiadas para acessar e se desenvolver em ambientes corporativos. Essa forma de discriminação é sustentada por ideais meritocráticos e de suposta imparcialidade com critérios “tecnicamente” validados pelas próprias organizações.
Conforme aponta a psicóloga e pesquisadora brasileira Cida Bento, as práticas organizacionais são atravessadas pelo pacto da branquitude, que naturaliza vantagens históricas, sociais e simbólicas em detrimento de grupos racializados.
No contexto organizacional, ela se expressa em critérios de seleção e promoção baseados em códigos subjetivos, como “boa aparência”, “fit cultural”, “postura adequada” ou “comunicação assertiva”. São parâmetros que, sob a aparência de objetividade, traduzem padrões racializados de comportamento, estética e linguagem.
Considere, por exemplo, o contraste recorrente nos processos seletivos: uma pessoa descreve “resiliência” a partir de uma experiência de intercâmbio, enquanto outra relata a “resiliência” construída na dupla jornada — trabalhar de dia, estudar à noite e buscar formas de complementar renda. A questão que se impõe é: qual dessas experiências de “resiliência” o mercado reconhece como valor? A oportunidade do intercâmbio ou a resistência produzida por jornadas exaustivas?
Em vez de abrirem espaço para a pluralidade, reforçam o que Frantz Fanon descreveu como o processo de internalização da dominação racial — a adoção de um ideal de branquitude como medida de valor e pertencimento.
De acordo com a ativista, médica e pesquisadora Jurema Werneck (2016), o racismo institucional se caracteriza pelo fracasso de uma instituição em promover equidade racial, ou seja, espelhar a sociedade na qual está inserida. A manifestação da discriminação racial indireta se manifesta também através da internalização da dominação racial, das burocracias e normas instituicionais, assim como códigos subjetivos que reproduzem a desigualdade.
Exemplo mais comum, e que pode ser considerado datado por alguns, é a exigência de domínio de inglês fluente para posições em que o idioma não é utilizado diariamente. A exigência restringe às pessoas candidatas a apenas 1% da população brasileira e, quando não exigida fluência, limitam a 5%. E o curioso é que é uma informação amplamente divulgada, mas a exigência continua.
Compreender a discriminação racial indireta implica deslocar o foco do indivíduo para a estrutura: não se trata apenas de identificar comportamentos discriminatórios, mas de questionar os arranjos institucionais e simbólicos que os tornam possíveis.
É justamente nesse ponto que a Gestão da Inclusão, como propõe a ECOS, exige das organizações uma revisão crítica dos próprios critérios que, sob o discurso de neutralidade, profissionalismo e mérito, legitimam desigualdades estruturais.
Estética, comportamento e reconhecimento
A discriminação racial indireta se materializa também nos códigos estéticos e comportamentais que orientam o que é considerado adequado no ambiente de trabalho. Esses códigos atravessam o corpo e operam silenciosamente na definição de quem pode ser visto como legítimo. Esses critérios não são meramente técnicos, mas fruto de uma história colonial que ainda opera de forma velada e permanece se ressignificando.
Do ponto de vista histórico, o projeto de colonização brasileiro instituiu uma forma de se olhar para as pessoas que as hierarquizou a partir de seus traços físicos. Assim, tons de pele, textura de cabelo, traços faciais e formatos de corpo foram politicamente associados a valores morais, cognitivos e civilizatórios. Essas leituras não desapareceram, apenas foram resignificadas dentro de normas corporativas contemporâneas.
O corpo negro, quando não se conforma aos parâmetros normativos de aparência e apresentação, é frequentemente lido como destoante. E o olhar que estranha é, muitas vezes, o mesmo olhar que se diz neutro.O cabelo crespo, as tranças, a pele retinta ou a vestimenta que comunica identidade cultural tornam-se marcadores racializados enquadrados como inapropriados para o ambiente corporativo. Quando trata-se da estética racial, não diz respeito apenas a estilo ou preferência, mas sobre a forma como corpos negros são lidos. Portanto, a estética é política, pois produz consequências materiais como acesso, credibilidade, legitimidade e mobilidade social (Hasenbalg).
Esse controle simbólico do corpo e da imagem funciona como uma tecnologia de exclusão: quanto mais distante do ideal de neutralidade estética — um ideal historicamente branco e masculino —, maior o custo de reconhecimento e pertencimento. Por isso, a presença negra precisa provar-se legítima, submetendo-se às expectativas comportamentais e visuais que representam a branquitude. Como sintetiza Racionais Mc’s: filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor”.
O mesmo ocorre no campo do comportamento.
Expressões emocionais, entonação, humor e formas de socialização são lidas através de lentes racializadas que associam afeto e racionalidade a lugares distintos. Mulheres negras, por exemplo, seguem mais expostas a estereótipos que as colocam entre a “agressividade” e a “hipercompetência”. O resultado é um duplo esforço: o de performar constantemente comportamentos esperados para reduzir resistências e o de sustentar a própria identidade em espaços que pedem autonegação como forma de sobrevivência.
Compreender a dimensão estética e comportamental da discriminação racial indireta é reconhecer que o racismo opera também na sensibilidade.
Os mecanismos estéticos e comportamentais atuam como dispositivos psicossociais de regulação de presença, participação e ascensão profissional. Este fatores podem ser analisados com os dados da pesquisa realizada pelo Instituto Ethos (2024), em que foi analisado o perfil social, racial e de gênero das 1.100 maiores empresas do Brasil, o estudo constatou que 84% das pessoas que compõem o quadro executivo e diretoria são brancas, enquanto a de pessoas negras são 13,8%.
A Gestão da Inclusão, portanto, precisa ir além da garantia formal de direitos e atuar sobre o que autoras como Sueli Carneiro e Sara Ahmed identificam como as políticas do afeto — o modo como emoções e percepções circulam nas instituições, definindo quem pode ser lido como legítimo. Casos jurídicos e experiências clínicas mostram como o custo psíquico da adaptação é, ao mesmo tempo, uma expressão da exclusão e uma forma de resistência.
O papel das instituições e da Gestão da Inclusão
Ao analisar a estética e o comportamento como dimensões politicamente reguladas nos ambientes corporativos, torna-se evidente que as desigualdades raciais não se mantêm apenas pela ação de indivíduos, mas por mecanismos e burocracias institucionais que organizam, legitimam e reproduzem hierarquias de reconhecimento. Nesse sentido, compreender o papel das organizações e da Gestão da Inclusão requer deslocar o foco de iniciativas pontuais para uma leitura sistêmica que reconheça a racialização como parte do funcionamento da própria instituição.
O racismo institucional é a tradução organizacional das estruturas simbólicas que o sustentam.
Ele se expressa nas normas que parecem neutras, nas linguagens que se pretendem universais e nas decisões cotidianas que, sob aparência técnica, reproduzem exclusões históricas. Sob o ponto de vista jurídico e ético, a omissão institucional diante dessas práticas representa não apenas um risco reputacional, mas uma violação ao dever de não discriminar: a ausência de políticas de prevenção a todo tipo de discriminação racial (direta e indireta, implícita e explícita) e de responsabilização pode configurar ilícitos e gerar responsabilidade legal da empresa nas esferas civil, trabalhista e administrativa.
Do ponto de vista psicológico e humano, as dinâmicas de discriminação indireta corroem o bem viver, fragilizam vínculos e instauram estados de vigilância emocional que afetam o desempenho e o sentido de pertencimento dos profissionais. O constante estado de vigilância e auto análise podem elevar o estresse e ansiedade, chegando até ao esgotamento emocional, mais conhecido como burnout, entre outros quadros, como depressão.
O papel das instituições é, portanto, o de assumir que a aparente neutralidade é uma escolha que, nos contornos da sociedade brasileira, acarreta sistematicamente em desvantagens indevidas a determinados grupos. Reconhecer esse poder é o primeiro passo para usá-lo de forma transformadora: criando ambientes em que o reconhecimento racial não dependa da adaptação, mas do compromisso coletivo com a equidade. É nesse sentido que a clareza principiológica se torna essencial: alinhar propósito, valores e práticas de modo coerente, garantindo que cada decisão traduza, na prática, o compromisso ético com a dignidade e a justiça racial.
Caminhos possíveis para a mudança
As diferentes formas de manifestação do racismo (expressão aqui empregada em sentido amplo e não jurídico), seja ela pautada por discriminação racial indireta ou indireta, implícita ou explícita, é sustentada pelos pilares: político, econômico e legislativo (Almeida).
Por isso, pensar em caminhos para a mudança também diz respeito a políticas públicas subsidiadas por essas esferas. Atualmente, o Estatuto da Igualdade Racial (Lei n.º 12.288/2010), em seus artigos 38 a 42, estabelece diretrizes para políticas públicas voltadas à promoção da igualdade de oportunidades.
No entanto, marcos mais recentes reforçam não apenas a possibilidade, mas o dever do Estado em agir. A Convenção Interamericana contra o Racismo — incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status de norma supralegal — determina a obrigação de adotar ações afirmativas e de combater a discriminação racial em todas as suas formas, diretas e indiretas.
Esse avanço jurídico reforça uma leitura essencial para as instituições: combater desigualdades raciais não é uma escolha política, mas um dever legal e ético.
Programas de ações afirmativas também são fundamentais para auxiliar na inclusão e desenvolvimento de profissionais. Acompanhadas de políticas públicas, as estratégias organizacionais ganham força para construir espaços que dialoguem sobre as relações trabalhistas e sobretudo raciais.
Cada instituição conhece, em algum nível, as estruturas que precisa transformar. Estabelecer estratégias para trabalhar as relações raciais é importante para pensar caminhos possíveis para a mudança. Quais caminhos possíveis?
Incorporar o enfrentamento do racismo à própria governança. Isso significa integrar a equidade racial às decisões estratégicas e aos instrumentos de gestão: revisar políticas e contratos, assegurar canais de escuta e mecanismos de responsabilização, e traduzir compromissos em metas e indicadores.
Reconhecer o impacto humano das estruturas. A psicologia social mostra que o pertencimento não se sustenta apenas por políticas de acesso, mas por experiências que possam gerar sentido e reconhecimento. Ambientes em que pessoas negras, indígenas e outros grupos racializados precisam provar continuamente seu valor produzem desgaste emocional, retraimento e perda de criatividade. Garantir o bem viver com o trabalho é também um ato de reparação: é restituir a possibilidade de existir com dignidade e de contribuir sem o peso da autodefesa constante.
Disposição para o conflito. Rever estruturas é desafiar hábitos, crenças e privilégios. A Gestão da Inclusão não elimina o desconforto — ela o qualifica. Transformar tensão em diálogo, resistência em aprendizado e conflito em campo de construção coletiva.
Por fim, o avanço real depende de coerência.
A clareza principiológica, quando incorporada como prática viva, orienta decisões éticas e transparentes, alinhando valores, discurso e ação. Cada escolha institucional — de um processo seletivo à forma de lidar com um erro público — é uma oportunidade de reafirmar compromissos ou de reproduzir contradições. Caminhar rumo à equidade racial é decidir, todos os dias, que tipo de legado se quer deixar.
A discriminação racial indireta é, antes de tudo, uma forma de poder. Ela se atualiza nas práticas institucionais que naturalizam a desigualdade e desloca o debate do campo da intenção para o da estrutura.
Enfrentá-la é reconhecer que o racismo não está apenas nos atos explícitos, mas nos critérios, símbolos e decisões que definem quem é visto, ouvido e legitimado. Portanto, enfrentar a discriminação racial exige mais do que programas isolados — requer projeto ético-político de transformação institucional.
_______________________________________________________________________________________
*Ainda que o foco deste artigo esteja nas experiências de pessoas negras — e, portanto, não detalhemos as agressões dirigidas a outros grupos com base em fenótipos ou comportamentos — é importante registrar que, no Brasil, a proteção contra discriminação racial abrange também pessoas discriminadas por sua origem, etnia, nacionalidade ou religião (incluindo tradições de matriz africana e judaica). Pessoas LGBTQIAPN+ também podem ser vítimas de discriminação com motivação racial quando a violência estiver ligada a raça, cor, etnia ou origem.



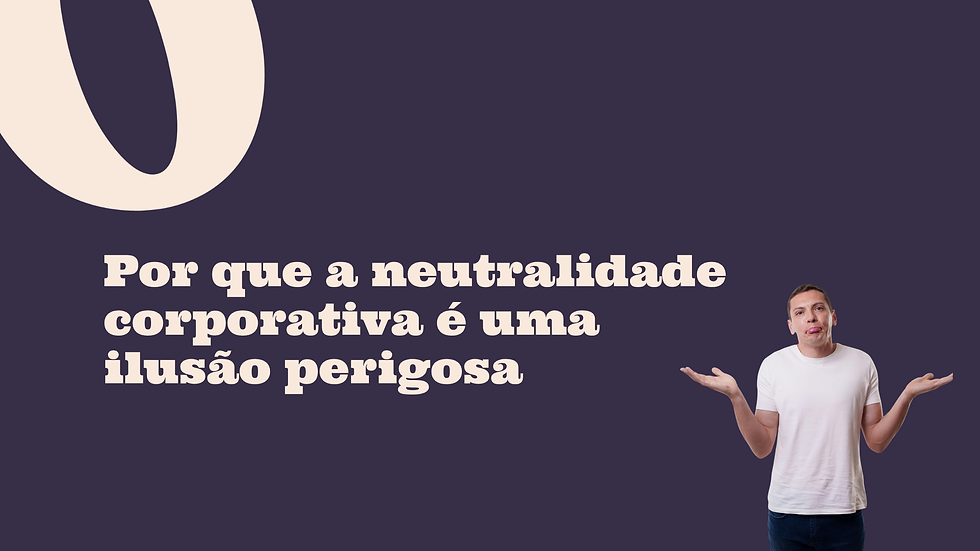
Comentários